Home | Novidades | Revistas | Nossos Livros | Links Amigos Letramento: do Processo de Exclusão Social aos Vícios da Prática Pedagógica
Nilce da Silva
FEUSP - nilce@usp.br
Silvia M. Gasparian Colello
FEUSP - silvia.colello@uol.com.br“O tema da linguagem é um dos temas da cultura e dos mais importantes, porque a linguagem tem a ver com a gente mesmo, com a identidade cultural, enquanto indivíduo e enquanto classe. Eu sou a minha linguagem; não tenho dúvida disso. É indispensável que a professora testemunhe ao menino popular que o jeitão dele dizer as coisas também faz sentido, é bonito e tem sua própria gramática, ainda que ela lhe ensine outra forma de escrever".
(Freire, In Zaccur, 1999, p. 17).
Compreendida a partir de seu significado social e político, a aquisição lingüística ganha um outro status no discurso pedagógico porque o desafio que hoje se coloca à construção da sociedade democrática ultrapassa a dimensão técnica do ensinar as letras, as sílabas e as palavras. Quando grande parte da população fica à margem do mundo letrado e os homens são impedidos de se constituírem enquanto sujeitos, há que se (re)considerar a exclusão social, um processo nem sempre evidente pela sutileza de seus mecanismos constituídos dentro e fora da escola. Ao privilegiar ambas as dimensões como eixos de abordagem, o presente artigo pretende aprofundar a compreensão das práticas de alfabetização e letramento no contexto de um fracasso que é pedagógico, mas, sobretudo, social e político.
1) A compreensão do tema e o processo de exclusão social
Preocupado com a escrita nos mais diferentes tipos de sociedade e em diversas épocas da história, Goody (1988) afirma que, ao aprender a manipular dispositivos de natureza essencialmente gráfica (como o alfabeto ou a tabela aritmética), o homem torna-se capaz de emprega-los para organizar a informação mentalmente, por mais numerosa que ela seja, sem precisar recorrer ao lápis ou papel. Assim, o homem distingue-se na natureza por fazer planos, por recorrer ao pensamento simbólico, e também, por exteriorizar e comunicar esses planos. É precisamente este tipo de atividade que a escrita promove, encoraja, transforma e transfigura. Escrever permite-nos falar livremente acerca dos nossos pensamentos. A fala é evidentemente programada pelo cérebro e está submetida a um controle pelo ouvido interno; aquilo a que chamamos pensamento corresponde, na maior parte das vezes, a falar em silêncio. Contudo, só uma pequena parcela de nossas reflexões se torna virtualmente um ato comunicativo interpessoal, isto é, de A para B em relação a um objeto X, embora a comunicação intrapessoal (as reflexões) tenha importância crucial.
Com o uso e aquisição da escrita, o homem se vê permitido a exprimir os seus pensamentos demoradamente e sem interrupções, acrescentar correções e emendas de acordo com uma fórmula adequada. Naturalmente que, para isso, não basta apenas a escrita, mas sim uma letra cursiva e os instrumentos que permitem um registro rápido. Para registrar um discurso interno (os pensamentos) ou externo (a fala), o papel e o lápis são claramente melhores que o estilete e a tabuinha de argila, tal como a estenografia é mais eficaz que escrever as palavras todas à mão, e a máquina de escrever elétrica é mais vantajosa que a manual. Mas, uma vez terminado este primeiro registro, qualquer revisão se apóia na inspeção visual e na subseqüente, reformulação. Vale a pena acrescentar que, para nós, o uso do computador facilita ainda mais este trabalho.
O reconhecimento da escrita, seus méritos e as possibilidades práticas por ela sustentadas, não nos habilita, contudo, às práticas discriminatórias e etnocêntricas. É certo que a divisão das sociedades ou dos modos de pensamento, em avançados e primitivos, domesticados ou selvagens, abertos ou fechados, destina-se essencialmente a trazer alguma ordem e compreensão a um universo complexo recorrendo ao uso da taxonomia popular. Porém, para Goody, a ordem é ilusória e o significado superficial. À semelhança de outros sistemas binários, esta categorização está impregnada de julgamentos de valor e etnocentrismo. Assim, um dos maiores méritos de sua obra, tem sido o de refutar as distinções etnocêntricas, especialmentente a eurocêntrica, que se têm feito ao longo da história.
Apesar disso, o autor se recusa a aceitar o relativismo cultural de muitos cientistas sociais que defendem, em diferentes sociedades, a igualdade dos processos intelectuais. Para ele,
«O relativismo cultural, no seu limite, afirma que, por exemplo, os povos africanos são iguais aos chineses, japoneses e europeus. Mas se são, a questão que se coloca é saber por que não realizaram as mesmas coisas. E, para isso, essa concepção não tem resposta. Não se trata, em absoluto, de dizer que algumas culturas ou povos são inferiores, menos inteligentes ou moralmente piores do que os outros, mas de reconhecer que as realizações são muito diferentes. Pensando no caso africano, eles desenvolveram, evidentemente, sistemas de conhecimento sobre a natureza, mas não puderam desenvolvê-los da mesma forma que os outros o fizeram, com a a ajuda do que chamo de ´tecnologia do intelecto`, ou seja, da escrita e do que ela possibilita (....) A habilidade de ler, escrever, usar livros me capacita a fazer coisas que os povos de uma cultura fundamentalmente oral, por mais talentosos e inteligentes que sejam, não podem fazer. Igual vantagem em produtividade adquirem aqueles que usam tração animal ou o trator para trabalhar a terra, em vez da energia humana» (In Palhares Burke, 2000, p. 47 e 48).
Assim, calcados nesse argumento é preciso admitir que a semelhança dos processos intelectuais vividos por diferentes comunidades não legitima a defesa da superioridade de uns sobre os outros, ainda que possamos considerar os recursos conquistados como importantes dimensões da ação social, como é o caso da escrita para muitas sociedades.
Na análise das realidades discursivas em sociedades iletradas, Lahire (1999) chama a atençãopara a existência de uma fábrica histórica e coletiva, atuando sobre nossas consciências dormentes para condicionar o modo como concebemos e lidamos com o iletrismo. Para que possa ser compreendida, a realidade invisível subjacente à experiência imediata requer uma verdadeira desconstrução dos argumentos tão freqüentemente difundidos.
Muitos discursos tendem para o fato de que o iletrado vive dentro da vergonha, da culpa, da dissimulação, da deficiência, não controlando seus atos, sua vida e relação com os outros. Já outros discursos, apelam para a luta contra o iletrismo, entendido como condição de miséria e vergonha, e, assim, acabam supervalorizando os efeitos da escrita sobre as capacidades mentais. Há ainda o discurso de que aprender é uma festa. Fala-se também que o iletrado vive de imprevistos e de instabilidade conjugal. Outras argumentações asseguram que falta cultura para estas pessoas já que elas têm a linguagem pobre, pronunciação deficiente, dificuldade em ler e escrever, universo pequeno e fechado.
Como símbolo do populismo que denuncia a miserabilidade associada ao tema do analfabetismo, o padre Wresinski é apontado por Lahire (1999) como uma das principais vozes da França nos anos 60. Sob o impacto do seu discurso, alguns programas sociais e educativos começam a evitar o termo «analphabète» dada a dimensão pejorativa da palavra «bête» (besta, idiota, animal) associada à raiz do conceito, passando a adotar o termo «Iletrisme». Finalmente, em 1985, a palavra iletrismo entra no dicionário da língua francesa, «Le Petit Robert», designando os imigrantes em França [1] e não os franceses que não sabem ler ou escrever, pois esta, como sabemos, já é questão solucionada neste país. Deixa-se, deste modo, o termo «analfabeto» para os habitantes de países subdesenvolvidos que não conhecem a leitura e a escrita da sua própria língua materna.
Com relação ao termo «analfabetismo», de acordo com Apple e Nóvoa (1998), dados relativos à história da educação de adultos oferecem-nos sucessivas definições para esta realidade.
Em 1965, em Teerã, no Congresso Mundial dos Ministros da Educação sobre a Eliminação do Analfabetismo, começa-se a utilizar o termo «Alfabetização funcional» cuja compreensão incluía, além de saber ler, escrever e contar, a aquisição de outros conhecimentos gerais básicos, bem como um melhor preparo para o trabalho e inserção no meio.
Nesta época, constata-se que, em decorrência do conceito, muitos “alfabetizados” no passado voltam a ser “analfabetos”, situação denominada de “analfabetismo regressivo”.
Anos mais tarde, em 1978, a UNESCO define o «iletrismo» [2] , para imigrantes instalados em países de primeiro mundo, e «analfabetismo funcional», para pessoas de países do terceiro mundo que não sabem ler e escrever sua própria língua materna. Em ambos os casos, a compreensão parece ser a mesma: « Pessoa incapaz de exercer todas as atividades para as quais a alfabetização é necessária e para o bom funcionamento da pessoa em seu grupo e na sociedade a qual pertence».
Na década de 80, com a fundação do Grupo Permanente de Luta contra o Iletrismo (GPLI), os debates sobre o iletrismo ganham especial destaque pela ampliação dos discursos que consideram a temática. Centralizando as concepções, o Grupo define, em 1991, a condição do iletrado:
«Falta de domínio suficiente de saber de base tendo dificuldade em comunicação com o outro, dificuldade em utilizar contas matemáticas, dificuldade em se situar geograficamente e historicamente» (Lahire, 1999, p.38).
Nos anos que se seguem, o termo literacia (ou letramento) enfatiza a capacidade de utilizar os textos escritos necessários para funcionar dentro da sociedade, atendendo seus objetivos, por fazer-se conhecer e crescer seu potencial. Ou seja:
«São consideradas como relevantes as situações de iletrismo das pessoas com mais de dezesseis anos que não dominam suficientemente bem a escrita em face das exigências mínimas requeridas por sua vida profissional, social, cultural e pessoal. As pessoas que são alfabetizadas dentro das escolas, e que saem do sistema escolar sem adquirir os saberes escolares primeiros por razões sociais, familiares ou funcionais » (Lahire, 1999, p. 41).
Na França o tema do letramento aparece prioritariamente vinculada à realidade do imigrante que, com dificuldade, busca a inserção na sociedade francesa. A partir dos dezesseis anos, como um quadro atípico da população local, a condição do imigrante configura-se como um problema pela sua inpossibilidade de compartilhar saberes considerados essenciais.
No Brasil, conforme nos explica Soares (1998), o aparecimento do termo «letramento» está associado ao fenômeno da superação do analfabetismo em uma sociedade que vem, progressivamente, valorizando a escrita:
«À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um númro cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia: não basta apenas aprender a ler e a escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas sociais de escrita (...) Esse novo fenômeno só ganha visibilidade depois que é minimamente resolvido o problema do analfabetismo e que o desenvolvimemnto social, cultural, econômico e político traz novas, intensas e variadas práticas de leitura e de escrita, fazendo emergirem novas necessidades além de novas alternativas de lazer» (Soares, 1998, pp.45/46)
Depois de muitos séculos usando o termo «analfabetismo», que se caracteriza pela negação [3] , fomos levados a considerar o uso de outro termo para fazer referência a uma nova realidade: aquele indivíduo que, mesmo tendo garantido o seu ingresso na escola, não aprendeu.
Preocupada com a compreensão desse fracasso e com suas as implicações pedagógicas na prática escolar, Kleiman (1995) procura distinguir duas concepções de letramento. O Modelo Autônomo, calcado na idéia de que a escrita teria uma lógica em si independentemente do contexto de produção, pressupõe um caminho único de desenvolvimento das habilidades e aprendizagem do sistema. Identificado com « o progresso, a cultura, a civilização e a mobilidade social », tal concepção é predominante, prestando-se à legitimação do ensino em massa, projetado pela própria estrutura da língua a ser aprendiada. No caso de fracasso, a culpa obviamente recai sobre o aluno (sua origem, sua família, sua estrutura mental, deficits lingüísticos ou carência cultural). De modo inverso, o Modelo Ideológico, associa as práticas de letramento à cultura e a estrutura de poder da sociedade, considerando seus resultados pela assimilação sempre diferenciada de significados e de práticas culturalmente compartilhadas. A consideração disso remete a revisão de práticas pedagógicas, a reconsideração do fracasso escolar e, finalmente, a crítica de posturas preconceituosas tão difundidas no âmbito social.
Se por um lado é verdade que a compreensão dos processos de letramento, ampliou o referencial sobre a conquista da escrita antes estritamente vinculada ao domínio das letras e do funcionamento do sistema de escrita; por outro, o destaque para a pouca familiaridade com as práticas da língua favoreceu um tipo de discurso discriminatório a serviço do processo de exclusão social. Nesse contexto, a referência que se faz aos iletrados acaba, segundo Lahire (1999), por disseminar a idéia, pela sua identificação com pessoas de vida difícil, que não sabem ler etiquetas, que não sabem usar máquinas de lavar roupa, confundem destinatário e remetente, que não sabem o que é direita e esquerda, não sabem dividir trinta e cinco pessoas em seis mesas, não sabem preencher formulários etc. Pela associação de idéias, iletrismo na França vincula-se à imigração, pobreza, precariedade, dificuldade social e facasso escolar. De modo semelhante, no Brasil, a questão do anlafabetismo parece estreitamente articulada ao quadro de desigualdades regionais que, de modo tão característico, marca as diferenças sócio-econômicas no país. Não raro o analfabeto identifica-se com o nordestino, o negro, o marginal, o carente e o infra-dotado, aquele que dificilmente poderia ser bem sucedido na escola ou no trabalho. Em ambos os casos, na França ou no Brasil, o significado não poderia ser outro: a perpetuação do estigma a serviço do processo de exclusão social.
2) Um novo olhar: Letrismo a-funcional
Em uma abordagem que se recusa a enfocar o homem pelo viés negativo, isto é, pelo “que lhe falta”, os conceitos de “analfabeto”, “analfabeto funcional” e “Iletrismo” parecem profundamente discutíveis. No contexto de nossa cultura, existe alguma pessoa que não tem acesso às letras? É possível alguém não se relacionar de modo algum com a escrita? Viver a margem de quaisquer práticas de leitura e escrita, desconsiderando-as por completo?
Levando a fundo esse posicionamento crítico, Biarnés (1996, 1998, 1999) defende a idéia de que o critério da falta faz parte do complicado jogo no qual o opressor pretende reduzir o oprimido à sua lógica e aos seus valores. Como alternativa conceitual, o autor constrói a idéia de “letrismo a-funcional”. Como ninguém está totalmente fora da letra ou dentro dela, é preciso compreender a ou as funcionalidades que construímos em nossa relação com a letra e com diferentes graus de eficiência: funcionalidades externas que implicam em comunicação com os outros e funcionalidades internas, que favorecem a economia psíquica do sujeito. Ao situar o conceito de “letrismo a-funcional” como parte de um amplo sistema de significações no qual o sujeito, em relação com o seu meio, atribui significados à sua própria relação com o sistema escrito, a grande contribuição de Biarnés é situar a condição do sujeito, livrando-se dos princípios de estigmatização, ao mesmo tempo em que favorece a revisão dos princípios do ensino.
Nesse sentido, é possível questionar a ação escolar. No tão freqüente paradoxo da prática pedagógica, os alunos inseridos no sistema vão, pouco a pouco, dele se excluindo. Paralelamente ao saber supostamente ensinado, a construção da marginalidade se esboça na sistemática consideração das incompetências discentes e nas profecias auto-realizadoras dos professores que raramente reconhecem as inteligências de seus alunos. Longe de buscar a reconstrução de sentidos relevantes aos olhos do sujeito-aprendiz, a prática de “preencher lacunas” configura-se como um ato autoritário (e por que não dizer, violento) que impõe verdades e gera o “analfabetismo de resistência”. Isso ocorre quando o aluno se sente como um estrangeiro na escola e as letras passam a representar o risco de perda da identidade. Ele aprendeu a escrever, mas não a se expressar; ele aprendeu a ler, mas não a compreender o seu mundo; ele foi alfabetizado, mas,na prática, ele se sente convidado a abrir mão de suas raízes. Neste caso, a “a-funcionalidade” torna-se uma eficaz arma contra a ameaça de perda fundamental. Em outras palavras, o analfabetismo de resistência acaba produzindo o letrismo a-funcional, a razão do insucesso de inúmeros programas de alfabetização.
No esforço para ensinar, a escola rouba a razão de aprender. Como esse mecanismo se processa nas práticas pedagógicas?
3. Contribuições teóricas e prática escolar: compreendendo os vícios pedagógicos
Tradicionalmente, a didatização das atividades para o ensino da leitura e escrita na escola cristalizou-se como uma linguagem estranha aos alunos, falantes nativos da língua portuguesa que nem sempre percebiam as práticas pedagógicas como extensão ou possibilidade efetiva do seu dizer. Longe de atender as necessidades do indivíduo, de desenvolver e ampliar os seus modos de expressão e interação, ou ainda, de alimentar o desejo de aprender, ensinava-se uma língua que, de fato, não era a dele; impunha-se uma relação com as letras incompatível com o seu mundo e, portanto, a revelia do próprio sujeito. Por atentar contra os princípios de identidade, as práticas de ensino justificaram, em muitos casos, a insurreição dos mecanismos de resistência, explicando, assim, o “milagre” da não aprendizagem, o fracasso escolar e a persistência do analfabetismo nas classes populares a despeito dos esforços empreendidos, exemplos clássicos que ilustram o processo de exclusão no interior da escola.
Nos anos 60 e 70, a pedagogia tradicional consubstanciada em práticas alfabetizadoras alienantes foi duramente criticada por Paulo Freire. Desde então, os argumentos em prol de um ensino pensado à luz do sujeito aprendiz vem sendo sistematicamente reconsiderados em diferentes frentes de pesquisa.
Na década de 80, como contribuição das ciências lingüísticas, foi possível trazer ao campo do ensino novas concepções sobre a língua, suas variantes e natureza essencialmente dialógica. A compreensão dos muitos falares, o respeito ao sujeito falante e a dimensão interlocutiva das práticas lingüísticas passam a configurar entre os pressupostos do projeto educativo na busca pela qualidade e eficiência do ensino. Paralelamente, os estudos psicogenéticos, ao defender o caráter construtivo da aprendizagem da língua escrita, chamaram a atenção dos educadores para a importância das experiências sociais de leitura e escrita como oportunidades que impulsionam e dão sentido ao aprendizado na escola.
Mais recentemente, nos anos 90, a busca da compreensão sobre o processo de letramento permitiu situar a alfabetização como um longo processo circunscrito entre duas vertentes indissociáveis: a aquisição do sistema de escrita e a efetiva possibilidade de uso no contexto social. Mais do que conhecer as letras, as regras ortográficas, sintáticas ou gramaticais, o ensino da língua escrita requer a assimilação das práticas sociais de uso, contribuindo assim para a conquista de um novo status na sociedade (Soares, 1998).
Assim, seja no que diz respeito à língua como objeto de ensino, seja no que tange à consideração do processo de aprendizagem ou ainda, no que direciona novas metas para a ação educativa, o quadro de referência teórica erigido nos últimos 30 anos pode favorecer a revisão de práticas pedagógicas para que se possa considerar mais significativamente o sujeito na relação com a escrita: a constituição da identidade, a formação da consciência crítica e a inserção social e política.
É bem verdade que, a partir dessa “revolução conceitual”, a melhor compreensão que hoje temos sobre o processo de alfabetização - seus caminhos e descaminhos, seus significados e implicações - tem inspirado, além das pesquisas acadêmicas, iniciativas concretas de propostas educativas oficialmente assumidas sob a forma de diretrizes nacionais e de programas estaduais, municipais ou particulares de ensino. Mas, considerando-se a prática pedagógica, o que de fato mudou na sala de aula?
No combate às tradições, os problemas relativos à implementação do novo traduzem a difícil relação entre a teoria e a prática. Trata-se de uma questão complexa porque tanto o acesso ao campo das idéias como a disponibilidade para a mudança das práticas docentes já superadas remetem a uma conjuntura de fatores que certamente extrapola a dimensão pessoal e institucional de um professor em uma determinada escola. Para além dos casos particulares, importa também considerar a formação do educador, suas condições de trabalho, a estrutura do sistema escolar e, finalmente, a política de valorização do ensino em nosso país.
Sem a pretensão de abarcar a amplitude e complexidade dos fatores envolvidos no processo de transformação da escola, tomamos a análise das práticas alfabetizadoras como um relevante exemplário da difícil permeabilidade das novas concepções nas práticas de ensino e o conseqüente e ininterrupto processo de exclusão que se constitui nas mínimas atividades do professor em sala de aula. Como um recorte necessário aos limites da pesquisa, desconsideramos ainda as dinâmicas em sala de aula e a “magia potencial” da relação professor-aluno (fatores eventualmente capazes de transformar a pior tarefa em algo pedagogicamente sustentável) para concentrar atenção exclusivamente nas propostas de lição de casa, ou seja, em tarefas nas quais o aluno era convidado a lidar com a escrita a partir de seu próprio referencial.
O estudo, realizado em 4 escolas de São Paulo (duas particulares e duas públicas municipais), acompanhou durante o 1o semestre letivo de 2002 todas as lições de casa, buscando compreender, pelo viés docente, as concepções a elas subjacentes e, pela perspectiva do aluno, os mecanismos de rejeição implícitos na produção da escrita (indiferença, descomprometimento com a tarefa, práticas automatizadas e sem significado).
A partir deste corpus de pesquisa, usamos como critério de análise a separação das atividades em duas categorias básicas: “a vivência de leitura e escrita” e a efetiva “experiência de aprendizagem da língua”. A primeira, bem ao sabor das práticas tradicionais, funciona como reflexo de uma escola que resiste a transformação. A segunda dá indícios de que a também a escola e capaz de inovar pela consciência crítica da intervenção docente e pela ousadia dos professores que se aventuram na busca de novas práticas de ensino.
O que significa tratar a aprendizagem da língua como uma experiência?
Apropriando-se da crítica a cultura formulada por Walter Benjamin e dos conceitos por ele definidos, Kramer (In Zaccur, 1999) defende a leitura e a escrita como “experiência”, isto é, como possibilidade de viver, pensar e compartilhar, tendendo a superação do tempo imediato. Em oposição, a “vivência” é uma ação pontual, que se esgota no período exato da sua realização e que não tem valor senão pela pura realização da tarefa em um exercício de pouco pensar.
A distinção ora proposta faz sentido em face da concepção da língua como potencial de envolvimento, inserção do homem em uma corrente de relações para tornar-se crítico e historicamente situado. Trata-se de levar a fundo a idéia da língua escrita como fator constitutivo do sujeito, uma condição que não pode ser anulada pelo pretexto ensinar a ler e a escrever.
A desconsideração do princípio da “experiência” explica os principais vícios que anulam as razões do aprender e ratificam as desigualdades no âmbito social. São tendências não exclusivas que, além de atestar a inadequação de muitas atividades propostas em classe, provam a inconsistência de posturas e metas educativas e os mecanismos de resistência escolar. O interesse em apontar os vícios do ensino não está em desqualificar em bloco e a priori a prática docente, reduzindo a cinzas as intenções ou os esforços empreendidos em sala de aula. Muito pelo contrário, com o intuito de contribuir para a revisão dos modos de ensinar, a análise das tarefas pode favorecer a formação da consciência crítica no desenvolvimento de um trabalho pedagógico capaz de, efetivamente, contribuir para a democratização em nosso país.
3.1 As lições ineficientes [4]
Procure em jornais e revistas e recorte palavras que comecem com a letra A e cole em seu caderno.
A MONARQUIA AR AMOR ATENDIMENTO ASPAS AIRBUS AMOR AMERICANAIRLINES
O que pretende o professor com tal consigna? Em que sentido essa atividade pode contribuir para a descoberta da escrita ou para a formação do leitor? Como ela é feita pelo aluno?
A ineficiência da atividade proposta pode ser explicada pela falta de sintonia entre os objetivos pretendidos e a efetiva realização da tarefa pelos alunos. Sem antecipar a reação das crianças, os professores visavam favorecer o contato da criança com o material escrito, de modo a incentivá-la à leitura ou, pelo menos, ao reconhecimento das letras convencionais. Na perspectiva da criança, a preocupação com os aspectos formais constitutivos da palavra escrita transformou a tarefa em puro exercício de discriminação (reconhecer e localizar a letra A), configurando-se, assim, como uma atividade lingüisticamente restritiva porque não pressupõe a leitura nem requer a compreensão dos significados. No exemplo, essa tendência fica evidente pela colagem de palavras dificilmente compreendidas pela criança (“airbus”, “aspas” e “AmericanAirlines”) ou mesmo pela confusão quanto ao entendimento do que seja a palavra (“a monarquia”).
3.2. A escrita artificial
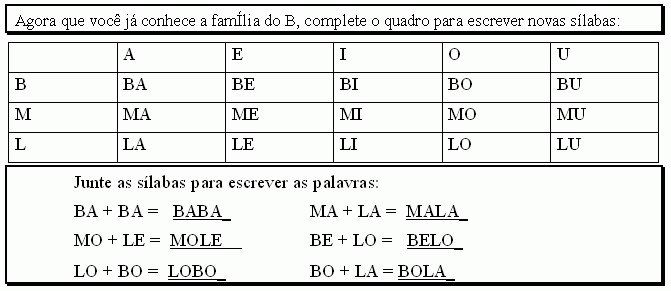
Com o objetivo de ensinar a escrever, muitos professores costumam organizar a prática pedagógica a partir de uma progressão linear e cumulativa de pontos a serem “dominados” pela criança: conhecer as letras, juntar as letras para formar sílabas, juntar as sílabas para formar palavras e juntar palavras para escrever frases. Aparentemente lógico, o processo peca pelo artificialismo com que lida com a escrita, anulando simultaneamente os sentidos e a dimensão dialógica da língua. No esforço para o planejamento didático, a proposta de escrita contraria a experiência que a criança tem com a escrita no seu dia-a-dia. Nas palavras de Ferreiro,
“O objeto da escrita no mundo social é um objeto selvagem. (...) Existe uma escrita que a escola considera desorganizada, fora de controle, caótica. O que faz a escola? Domestica esse objeto, decide que as letras e as combinações são apresentadas em certa ordem e constrói seqüências com a boa intenção de facilitar a aprendizagem”.(2001, p.33)
3.3 As tarefas mecânicas

Tendo explicado aos alunos que o M deve necessariamente preceder o P e o B, o exercício acima configura-se como um típico recurso de fixação da regra ortográfica que, nesse caso, deve ser assimilada pela memória e repetição mecânica. Longe de favorecer a descoberta das normas ortográficas e a consciência da sua importância em um contexto real de uso lingüístico, a criança é simplesmente induzida a preencher lacunas, lidar com termos desconexos e fazer o jogo da escola em tarefas carentes de desafio ou motivação. É assim que, em nome do bem escrever, muitas vezes “assassinamos” a escrita e, com ela, a vontade (ou o direito?) de dizer.
3.4 A escrita descontextualizada

Porque estava ensinando o “Sistema Solar”, a professora em questão usou um falso pretexto para, mais uma vez, induzir seus alunos a escrever por escrever. Preocupada unicamente com o domínio do sistema e com a necessidade de exercitá-lo por uma produção qualquer (como é o caso de palavras desconexas), a tarefa rompe com a possibilidade de um uso inteligente da escrita.
Atento para a necessidade de transformar o “saber escrever” em “escrever como prática real e eficiente”, Geraldi defende as seguintes condições para a redação de um texto:
“a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz (ou, na linguagem wittgensteiniana, seja um jogador do jogo);
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d).” (1993, p.137)
Em síntese, a descontextualização da proposta traduz o descomprometimento com o formação do “sujeito escritor”, eventual artífice da expressão de suas próprias idéias.
3.5 A leitura e a escrita sem significado
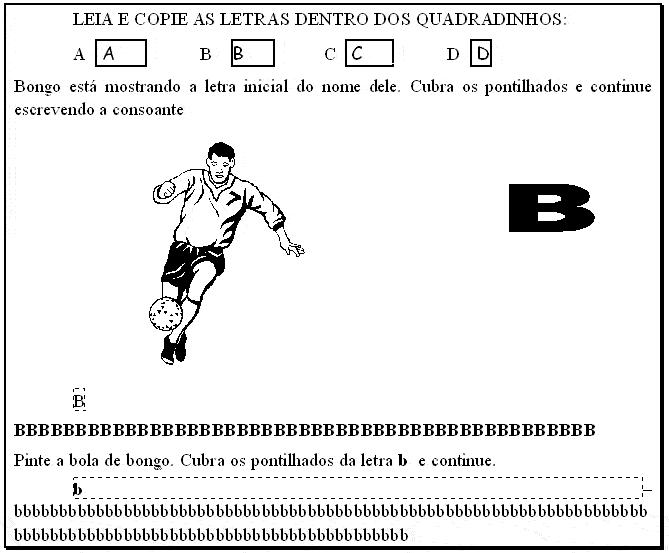
Reduzida à condição figurativa, a escrita limita-se ao exercício da cópia, tendo como implícito o pressuposto de que aprende a escrever aquele que sabe desenhar as letras convencionais. A leitura, por sua vez, é tratada como mera visualização de símbolos cujos sentidos não podem ser considerados senão pela “sua identidade convencional”. A associação forçada da letra ao personagem que pouco se conhece funciona como um frágil vínculo para uma criança que, já no seu dia a dia, aprendeu que as letras se associam para produzir significados. Juntas, elas podem trazer notícias e contar estórias, mas na escola muitas vezes tudo isso deixa de ser considerado em nome do aprender a escrever letras e palavras pré-determinadas. Nesse sentido, podemos afirmar, juntamente com Paulo Freire, que
“... a escola está aumentando a distância entre as palavras que lemos e o mundo que vivemos. Nessa dicotomia, o mundo da leitura é só o mundo do processo de escolarização, um mundo fechado isolado do mundo onde vivemos experiências sobre as quais não lemos. Ao ler as palavras, a escola se torna um lugar especial que nos ensina a ler apenas as ‘palavras da escola’ e não as ‘palavras da realidade”. (In Zaccur, 1999, p.22)
3.6 As lições tarefeiras
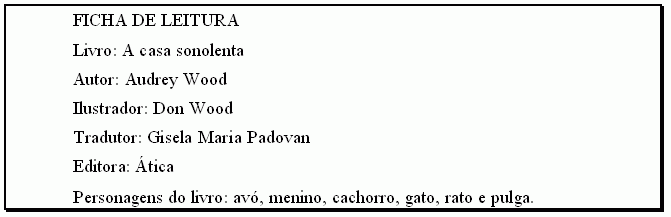
Visando estimular a leitura entre seus alunos, uma professora sugeriu a leitura do livro “Casa Sonolenta”. Após a leitura, as crianças preencheram a ficha acima. É bem verdade que compreender os vários aspectos ou ocupações que se conjugam na produção de uma obra (autor, ilustrador, tradutor e editor) pode ser uma importante dimensão do universo letrado. Poder identificá-los favorece o posicionamento crítico em face da leitura, primeiro pela aproximação com a indústria cultural e, segundo, pela oportunidade de confrontar os aspectos internos e externos do livro (a qualidade da produção, o mérito do texto, o ajustamento da ilustração, a composição gráfica, etc.).
Todo esse esforço, plenamente justificável, não se resume, contudo, ao preenchimento de uma ficha nem se sobrepõe ao interesse de discutir o livro: seus personagens, seus conflitos, a dinâmica do texto e seu apelo para uma nova leitura do mundo. Assim, condicionar a leitura de um livro (e particularmente da “Casa Sonolenta”) ao propósito de conferir a leitura ou identificar nomes e personagens para preencher corretamente as lacunas de uma ficha é circunscrever o valor da leitura ao estritamente pedagógico. A lição tarefeira é aquela que se fecha na escola, abrindo mão da aventura, do gozo, da curiosidade e da magia do ler e escrever. Aprofundando a compreensão de que ensinar a língua escrita é promover a compreensão do sistema e favorecer o uso social, podemos, assim como Zaccur, defender que
“ ... o ensino da língua precisa considerar não só o usuário, mas também o ser-leitor curioso do mundo que se interroga, interpretando e capturando retalhos nas experiências sensíveis e nas conversas cotidianas.” (1999, p. 34)
3.7 As tarefas repetitivas
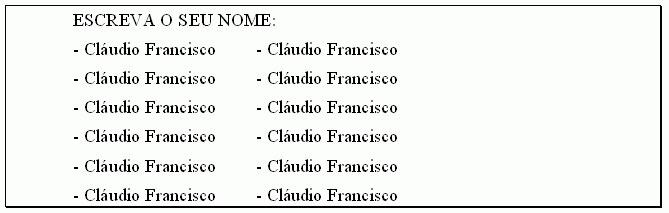
Aprendemos com Ferreiro e Teberosky (1984) que a escrita do nome próprio tem um especial interesse para a criança que aprende a escrever; não só pela motivação que favorece o pretexto e o esforço para escrever, mas também porque, depois que o nome se fixa como uma forma estável (conhecida de memória), ele funciona, no plano cognitivo, como parâmetro para a construção da escrita pela composição de outras palavras (a consideração de quais letras, quantas letras e do valor fonético de letras e sílabas).
A implicação pedagógica de tal princípio foi a indicação de atividades com o nome próprio nas séries iniciais, especialmente nas primeiras tentativas para escrever. Na prática, tivemos o uso e também o abuso da escrita do nome próprio. Em muitos casos, a assimilação superficial do valor pedagógico da escrita do nome resultou em lições mecânicas e repetitivas como a tarefa acima. Proposta para uma criança que já sabe escrever apenas com o objetivo de exercitar a letra cursiva, a atividade está longe de recuperar a motivação e o desafio cognitivo das primeiras tentativas de escrever o nome próprio. Mais que isso, ela dificilmente se justifica enquanto efetiva prática de uso da escrita. Não foi por acaso que alguns alunos, resistindo ao exercício de pura repetição e muito provavelmente estranhando a “lógica artificial” das práticas escolares, chegaram a sugerir a reprodução de seus nomes pela via do xerox, uma alternativa mais eficiente em nosso contexto social.
Ajuriaguerra (1988) definiu o escrever como “a arte de aprisionar a mão para libertar a idéia”. Muitas vezes, a escola prescinde da expressão para reduzir a escrita ao exercício manual, tão dolorido quanto desmotivante e incompreensível. Para além da enfadonha prática de desenhar o nome repetidas vezes, mas ainda na mesma perspectiva viciosa, observamos nas escolas estudadas, práticas abusivas de cópia como suposto recurso para “melhorar a letra”, “aprender ortografia” ou “dominar o conteúdo”.
A esse respeito, é preciso deixar claro que o problema não está na cópia, mas, mais uma vez, na precária consciência dos critérios que sustentam as práticas escolares. Tomados pela superficialidade dos “modismos pedagógicos”, muitos professores tendem a centrar a sua atenção nas atividades em si, aceitando-as ou rejeitando-as em bloco, sem perceber os princípios que as subsidiam nem as possibilidades de uso que condicionam a legitimidade e a coerência do fazer pedagógico.
“De um professor que sempre deixava copiar passamos para outro que se aterroriza por ter um aluno que quer copiar. Isso evidencia a dificuldade de reconceitualizar a cópia, descobrir quando a cópia é útil, funcional. De instituir a cópia como o único mecanismo de aprendizagem passamos a satanizá-la, o que é muito típico dos movimentos pendulares educativos: vamos para um extremo, não funciona e, então, vamos exatamente para o outro. Por isso, é tão difícil construir em educação, apesar de todas as declarações construtivistas que andam por aí”.(Ferreiro, 2001, p. 41).
A maior contribuição do Construtivismo não está em inaugurar novas modalidades do fazer pedagógico, mas em reconfigurar as práticas de ensino a partir dos processos cognitivos do aprendiz em face de cada tarefa e dos significados do que se propõe. Quando esses princípios não são contemplados, corre-se o risco de reduzir o ensino ao exercício ineficiente, artificial, mecânico, descontextualizado, sem significado, tarefeiro, artificial e também repetitivo.
4. O caminho da transformação pedagógica: assimilação conceitual, mudança da prática de ensino ou conscientização política?
Indiscutivelmente, a constatação de práticas viciadas no âmbito escolar atesta a dificuldade na assimilação de uma nova postura educacional em face do ensino e, particularmente, da alfabetização. Uma dificuldade que se explica pela força das práticas tradicionais que permanecem às custas das configurações estruturais e políticas (a inércia), da formação ainda precária dos educadores e, finalmente, de complexos mecanismos de resistência intra-escolar ainda pouco estudados e compreendidos.
A despeito disso, não se pode dizer que a escola permanece imune às contribuições teóricas, aos apelos das novas propostas pedagógicas ou às exigências democráticas. Muito pelo contrário, os esforços de renovação são evidentes (em maior ou menor grau, com mais ou menos eficiência) tanto na proposta formalmente assumida como nas práticas em sala de aula. Curiosamente, os mesmos professores que, de modo involuntário, patinam nos vícios das tarefas inadequadas são aqueles que, em outras oportunidades, chegam a sugerir atividades bastante ajustadas, comprometidas com o processo de aprendizagem, o respeito e a formação do aprendiz.
Vivemos, portanto, em um momento educacional peculiar que, pedagogicamente, se caracteriza pela convivência entre o saber e o não saber, a busca e a resistência. Nessa fase de transição, somos obrigados a admitir que, de fato, a escola vem sofrendo um considerável impacto, mas que a assimilação do novo é ainda inconsistente.
Na tentativa de compreender os (des)caminhos do processo de transformação escolar - obviamente circunscritos nos limites dos campos investigados – somos levados a considerar a hipótese de que a oscilação das tarefas escolares (mais ou menos ajustadas) traduz a distância entre a assimilação prática e conceitual. No âmbito da prática, os professores conseguem até vislumbrar modalidades consideradas favoráveis à construção do conhecimento: jogos, desafios, projetos e atividades de escrita espontânea. No entanto, não se pode dizer que a prática pedagógica esteja conscientemente respaldada por critérios conceituais consistentes, razão pela qual eles acabam também sendo traídos pelas propostas de lições viciadas e ultrapassadas.
É assim que, ao lado de algumas práticas indiscutivelmente renovadas, prevalecem concepções elitistas de ensino incompatíveis com o processo de transformação da escola e da sociedade. Pensando nesses vícios, impõe-se a necessidade de apontar os seus significados. Em primeiro lugar, há que se criticar o conceito de aprendizagem lamentavelmente compreendido como um processo linear e cumulativo, que se processa como resultado da somatória de informações oferecidas ao aprendiz na trajetória pré determinada do programa didático. Em conseqüência disso, o papel atribuído às tarefas escolares, comprometidas com o esforço de sistematização para o estritamente escolar, distancia-se do mundo em práticas artificiais em sem sentido. No caso do ensino da escrita, as lições ficam circunscritas ao exercício motor e ao treinamento do código (vivências de leitura e escrita) em detrimento das possibilidades de reflexão, descoberta e uso (experiências de linguagem). Finalmente, a língua escrita continua sendo tomada na sua dimensão técnico instrumental, um sistema de regras e normas a serem compreendidos e exercitadas.
A difícil permeabilidade das concepções à prática pedagógica baratinam o compromisso de transformação da escola que, hoje, se anuncia timidamente pelo esforço de professores bem intencionados, por iniciativas eventualmente renovadas e por belos projetos pedagógicos que, muitas vezes, não saem do papel. A confusão de metas e princípios compromete o projeto educacional (a coerência de suas práticas ao longo da progressão escolar) impondo, ao lado dos saberes previstos mas nem sempre garantidos, uma outra ordem de aprendizagem, os saberes indiretamente conquistados embora menos desejáveis. Esse é o caso de muitos alunos que até aprenderam a escrever, mas aprenderam também a não gostar da escola, a trapacear a professora, a não desejar o conhecimento, a não se aventurar nas possibilidades de expressão, a valorizar a aprendizagem por suas recompensas externas... Esse é o caso das escolas que, mesmo se propondo a ensinar, traem os princípios democráticos porque perpetuam os mecanismos de resistência ao saber e as práticas sociais de alienação.
Seja nas concepções sobre o analfabetismo, seja no funcionamento da escola, o que prevalece é a lógica excludente do sistema capitalista contra a qual vemos insurgir pequenas frestas de consciência e luta. São iniciativas capazes de contribuir para a qualidade do ensino e para a construção dos princípios democráticos porque acreditam que cada um de nossos alunos pode ser sujeito da própria história.
Referências Bibliográficas
AJURIAGUERRA, J. A Escrita Infantil – Evolução e Dificuldades. Porto alegre, Artes Médicas, 1988.
APPLE, M. e NÓVOA, A. (orgs.). Paulo Freire: Política e Pedagogia. Porto: Porto Editora, 1998.
BIARNÈS, Jean. Jeunes et adults en échec, mais encore! Education, Paris, vol. 24, mars/mai. 1996.
_________ O ser e as letras: da voz à letra, um caminho que construímos todos. Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, Jul./ dez. 1998.
________ Jean. Universalité, Diversité, sujet dans l’espace pédagogique. Paris: L’Harmattan, 1999.
FERREIRO, E. Cultura Escrita e Educação, Porto Alegre, Artes Médicas, 2001.
FERREIRO, E. e TEBEROSKY, A. Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo Del Niño. México, Siglo Veintiuno Editores, 1984.
GOODY, J. Domestificação do Pensamento Selvagem. Lisboa: Editorial Presença, 1988.
GERALDI, J. W. Portos de Passagem, São Paulo, Martins Fontes, 1993.
KLEIMAN, A . Os Significados do Letramento, Campinas, Mercado das Letras, 1995.
LAHIRE, Bernard. L’invention de l’illettrisme: rethorique publique, éthnique et stigmates. Paris: La Découvert, 1999.
PALLARES-BURKE, M. L. G. As Muitas Faces da História: nove entrevistas. São Paulo, Editora UNESP, 2000.
SOARES, M. Letramento – Um Tema em Três Generos, Belo Horizonte, Autêntica,1998.
ZACCUR, Edwiges (org). A Magia da Linguagem, Rio de Janeiro, SEPE/RJ/ DP&A, 1999